Fordlândia foi parar no Marajó; o cabano Angelim virou Alecrim e os restos mortais de Dom Pedro I não foram desembarcados no Recife, rs
Por MDutra
Com frequência ouço no Rádio, pronunciadas inclusive por alguns ex-alunos/as meus, expressões tais como “o Tribunal de Contas do Município de Belém”, “as ruas do município”, nomes como “Simon Bolivár”, termos como “terraplanagem”. Os exemplos são muitos, incluindo, nos impressos, a separação, com vírgula, entre o sujeito e o verbo.
Belém não tem tribunal de contas isoladamente, trata-se de Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, logo, de todos os municípios. O outro é o Tribunal de Contas do Estado do Pará, que julga as contas do governo do Estado, isoladamente ou nos convênios com os municípios.
Quanto às “ruas do município” parece haver aí uma desinformação entre o ente Município e sede municipal. A sede do município obviamente é a cidade, onde há ruas, avenidas, travessas, becos, etc. As estradas situam-se no interior, a não ser nalgum caso raro.
Simón Bolívar, um dos maiores vultos da história latino-americana, não é Bolivár. E terraplanagem é, originalmente, terraplenagem, ação mecânica que tem a ver com o termo “pleno”=cheio, ou seja, é uma ação de enchimento de valas, etc. No entanto, de tanto se pronunciar diferente do original, alguns autores já admitem a “terraplanagem”, no sentido de tornar o terreno plano.
Porém, estes erros que cometemos no nosso dia a dia de jornalistas, por exemplo, são café pequeno diante de outros cometidos por exemplo, por pesquisadores ou historiadores. Três exemplos cabeludos que seguem:
O escritor ou historiador Antônio Espírito Santos publicou, em 1956, um livro intitulado “O Vale Amazônico no Futuro do Mundo”, que traz na capa a advertência de “2ª. edição revista e atualizada”. Seu autor o publicou pela segunda vez em São Paulo, na editora Edgfraf. Na página 176 ele afirma: “...Na Fordlândia já existe o plantio científico ... É perfeita organização americana, localizada em terras paraenses, na Ilha do Marajó”. Como se vê, o autor transportou Fordlândia do baixo rio Tapajós para a Ilha do Marajó, mesmo numa edição “revista e atualizada”. O erro se repete em outras páginas desse livro que encontrei no acervo do Instituto Cultural Boanerges Sena, em Santarém, por obra e graça de seu presidente, Cristóvam Sena.
Tempos atrás, vasculhando as prateleiras de uma livraria em Florianópolis, dei com uma obra intitulada “As raízes do separatismo no Brasil”. Além de cometer o deslize de afirmar, sem provas, que a Cabanagem foi um movimento separatista (hoje isso é negado pela pesquisa documental), o autor Manuel C. de Andrade informa ao seu leitor que um dos mais destacados líderes da Cabanagem, tendo presidido a província rebelde por quase um ano, chamava-se Eduardo Alecrim, em vez Angelim, como se tornou conhecido por esse apelido o jovem líder cabano.
Jornalista escreve com pressa. Mesmo quando envereda pela historiografia ou a pesquisa científica, carrega consigo os vícios das redações, das pautas que são elaboradas e horas depois devem estar cumpridas, textos e fotos prontas, etc. Não é essa a rotina de um historiador ou cientista, na busca de comprovar as suas hipóteses, catar documentos, etc.
Nos últimos anos jornalistas brasileiros vêm publicando livros frutos de pesquisa sobre fatos históricos, alguns deles best-sellers, como é a trilogia de Laurentino Gomes, jornalista de Maringá, Paraná. Refiro-me a seus três livros titulados numericamente, indicando os anos que marcam períodos da vida brasileira: 1808, 1822, 1889, que têm como epicentro narrativo justamente a fuga da família real para o Brasil, a Independência e a Proclamação da República.
Nas três obras, são quase 1.200 páginas de uma excelente contribuição para o conhecimento popular sobre momentos da história do País, nem sempre bem introduzidos nas nossas escolas básicas. O estilo jornalístico é atraente e, a partir destes textos, o leitor adquire o conhecimento necessário para avançar em leituras mais específicas, se assim o desejar.
Para uma boa compreensão do ponto de interação, numa só pessoa, do jornalista, do intelectual e do escritor, esclarecedor é o livro de Fábio Pereira, “Jornalistas-intelectuais no Brasil” (Summus, 2011), prefaciado por Cremilda Medina. Aqui a intenção é apenas uma breve reflexão sobre algo que distingue a atividade jornalística da atividade do pesquisador acadêmico. É a prática, o dia a dia que ensina que o jornalista produz a informação para hoje, aliás, depois da internet, é para agora, até mesmo durante o desenrolar do acontecimento. O pesquisador, por seu turno, distancia-se anos-luz dessa exigência, é de seu próprio fazer o vagar, a análise mais lenta, repetida, socializada com seu grupo e com a sua comunidade de saber.
É com este pressuposto que faço duas observações nos trabalhos de Laurentino Gomes. A primeira, referente ao mais recente livro, 1889.
No capítulo 3, O Império Tropical, à página 86, ao tratar das revoltas regionais durante a Regência, o autor menciona corretamente a grande guerra amazônica que ficou conhecida como Cabanagem (1835-1840), como “a mais sangrenta de todas as revoluções brasileiras do Império”, resultado em cerca de 30 mil mortos entre brancos e mestiços, negros e índios. Hoje, com o caminhar da pesquisa histórica no Brasil e na Inglaterra, essa informação é ponto pacífico em diversos autores e historiadores.
O que fica duvidoso no referido capítulo é que o autor afirma que “os rebeldes proclamaram a independência do Pará e também diziam defender a religião católica”.
Quando lemos Domingos Antonio Raiol, em seu alentado livro em cinco volumes, “Motins Políticos ou a história dos principais acontecimentos políticos da Província do Pará desde o ano de 1821 até 1835”, obra considerada a porta de entrada para qualquer pesquisador que deseje estudar a Cabanagem (não confundir com a revolta nordestina). Foi publicada entre os anos de 1865 e 1890, distribuída em cinco volume. Foi reeditada pela Universidade Federal do Pará em 1970 em três volumes. Pois bem, percebemos à página 804 do terceiro volume (1970), esta afirmação:
“O dia 7 de janeiro de 1835 devia ter o seu termo fatal, tempestuoso e sangrento como despontara. Com o assassinato dos principais agentes da autoridade, os rebeldes declararam a província independente do governo central, tomaram por lei o arbítrio, impuseram-se pelo terror”.
A seguir, no mesmo parágrafo, escreve Raiol: “É certo que, em 21 de fevereiro, quando apenas tinham decorrido quarenta e três dias depois do assassinato de Lôbo de Sousa [governador da província nomeado pela Regência] eles adotaram nova e oposta resolução, protestando obediência à Regência e aos seus delegados...”
Quem era Raiol? Ele tinha cinco anos quando começou efetivamente a guerra no Grão-Pará. Seu pai foi assassinado pelos revoltosos na cidade de Vigia. Formado pela Faculdade de Direito de Recife, foi político importante no Império do qual ganhou o título de barão; era intelectual e político, fundou a Academia Paraense de Letras e governou as províncias de Alagoas, Ceará e S. Paulo por nomeação de Pedro II. Já na maturidade empregou todo o seu talento intelectual e produziu a mais completa obra documental sobre a Cabanagem, rica por seus milhares de documentos primários citados ou transcritos. Por sua história, inclusive familiar, Raiol é crítico da guerra amazônica, creditando a revolta à ação de desordeiros. Mas também se mostra honesto em vários momentos de seu relato.
No mesmo volume 3, à página 945, Raiol transcreve uma carta do mais importante governador cabano, Eduardo Angelim, remetida às autoridades inglesas a respeito do ataque dos revoltosos ao navio Clio, na costa atlântica do Pará. Escreveu o próprio Angelim: “...o Pará não está desmembrado da integridade do Império...” Isso o governador afirmou porque o governo inglês exigia indenização pelos prejuízos ocorrido no ataque ao navio, sobretudo com o roubo de grande volume de armas que o barco transportava. Angelim passou, assim, a responsabilidade da indenização ao governo central, alegando que se tratava de um entrevero internacional e que, assim, deveria ser tratado pelo governo no Rio de Janeiro e não em Belém.
No início da pendência, os ingleses tentam retaliar militarmente, inclusive com o içamento da bandeira inglesa em Belém. Negociador, Angelim conseguiu que a bandeira estrangeira ficasse ao lado da bandeira brasileira.
Durante muito tempo se falou que a Cabanagem era uma guerra separatista. Na mesma página 945, Raiol escreve que, durante um almoço entre lideranças cabanas e a oficialidade inglesa, após o acordo em torno do ataque ao navio, e citando como fonte o próprio Angelim, que durante o aludido almoço houve quem chegasse “a proclamar a separação política do Pará, como nação livre e independente, com promessa de proteção estrangeira [que seria inglesa], respondendo ele (Angelim) que não trairia nunca a sua pátria para trocar o nome de cidadão brasileiro com o qual se julgava enobrecido!”.
Produzir o texto de uma reportagem não é a mesma coisa que produzir um texto histórico. São processos produtivos distintos, com lógica e ritmo próprios. Um não é superior ao outro, apenas diferentes.
Todo jornalista sabe, ou deveria saber, que a reportagem enraíza-se no presente, trata de fatos atuais mesmo quando há necessidade de reportar-se a fatos passados. O passado, na reportagem, está aí como fator de elucidação do acontecimento presente.
O mesmo não ocorre com o texto histórico. Este se debruça sobre o acontecimento passado a fim de compreender-lhe as causas, motivações, o período, para trazer ao presente a compreensão das realidades que vivenciamos.
Pode parecer a mesma coisa, mas são apenas processos fronteiriços. A grande diferença está no processo de produção de um e de outro: o jornalista produz o texto rápido, comprimido pela lógica e pelo ritmo do jornalismo que se refere a fatos que estão acontecendo, o que não se dá com o historiador, para o qual a pressa tem outro ritmo, a busca das fontes exige tempo para a produção de um texto que promete não ser fugaz, como é o texto jornalístico.
Faço estas reflexões para comentar algumas passagens do recente livro do jornalista paranaense Laurentino Gomes, sob o título “1822”, há pouco lançado, espécie de sequência do outro livro, “1808”, que publicou há três anos, pouco antes das celebrações do bicentenário da chegada ao Brasil da família real portuguesa fugitiva das tropas de Napoleão.
Os dois livros são interessantes no sentido de atrair a atenção do grande público para a história do Brasil, tão mal contada nos livros escolares, narrada de forma maçante na escola fundamental. Nesse aspecto, é um trabalho bom o de Laurentino Gomes.
No entanto, as observações que faço na introdução deste texto, eu fiz logo ao saber do novo livro e me perguntei se, num espaço de três ou quatro anos, é possível produzir rapidamente duas obras de quase 800 páginas, repensando naquela distinção: o texto jornalístico é, por natureza fugaz e produzido às pressas, diferente do texto histórico, que exige outro ritmo e, por prometer perenidade (relativa), necessita de tempo e maturação.
IMPRECISÕES
Não me arvoro a fazer uma crítica ao livro inteiro, já que não sou historiador, apenas indico algumas imprecisões. Com lupa na mão, historiadores das diferentes regiões do Brasil poderiam encontrar, talvez, mais problemas e assim comprometer um trabalho, como o de Laurentino, que não deixa de ser interessante no seu conjunto. Acontece que certas imprecisões podem lançar a desconfiança sobre o livro inteiro.
Na página 183, em relação ao Pará, a respeito dos episódios sangrentos em torno da Independência, escreve Laurentino: “Por falta de lugar nas prisões, um grupo de 260 paraenses foi trancafiado no dia 20 de outubro (1823) no porão do navio Diligente, ancorado sob sol escaldante no cais do porto (de Belém). No entardecer do dia seguinte descobriu-se que só quatro prisioneiros continuavam vivos...”
A rigor não há erro aí, apenas a omissão de que esse episódio passou para a história como o “massacre do Brigue Palhaço”, nome com que o navio Diligente havia sido depois rebatizado.
Mas está incorreta a grafia do nome do oficial inglês que conseguiu enganar a elite dirigente do Pará de que uma esquadra real estaria nas imediações de Salinas pronta para atacar Belém, caso a Independência não fosse reconhecida pela Província rebelde. O nome é Greenfell e não Grenfell, segundo se lê nas páginas 47 e 48 do Tomo I de “Motins Políticos”, de Domingos Antonio Raiol, livro em geral usado por quem começa a estudar a história do Grão-Pará (hoje Amazônia) e a guerra da Cabanagem.
Laurentino Gomes se baseou no Livro de João Armitage, “História do Brasil”, páginas 99 e 100, sem indicar o ano da edição (outra imprecisão). Se tivesse ido direto a Raiol, obra basilar sobre aquele período, teria lido, na página 51 do Tomo I, reprodução de documento da época: “Eram sete horas da manhã do dia 22 quando se correu a escotilha do navio em presença do comandante ... E o que viu ele? Um montão de duzentos e cinquenta e dois corpos, mortos, lívidos, cobertos de sangue, dilacerados, rasgadas as carnes com horrível catadura e sinais de que tinham expirado na mais longa e penosa agonia”.
Porém erro grave de informação no livro “1822” está na página 234, quando Gomes aborda o traslado dos restos mortais de D. Pedro I de Portugal para o Brasil. Escreve ele: “Em 1972, ano do Sesquicentenário da Independência, quando os restos mortais de D. Pedro foram trasladados de Portugal para o Brasil, o povo pernambucano, tendo à frente o Instituto Histórico e Arqueológico, pediu que o navio passasse ao largo. O desejo foi atendido. Pelo menos nesse pedaço do Brasil, não havia motivos para prestar homenagens ao imperador”.
Ora, trata-se de uma incorreção total, pois o imenso caixão com as cinzas de D. Pedro foi desembarcado na passagem por Recife, na viagem em direção ao Rio, parada anterior à chegada a São Paulo, onde os despojos foram guardados até hoje no Monumento do Ipiranga. O cortejo pernambucano saiu do porto, desde a ilha de São José até o Largo das Princesas, onde se localiza o Palácio do Governador. Ali esteve exposto a visitação pública por muitas horas.
A fonte dessa informação sou eu próprio, pois eu estava lá, no momento da passagem da urna com os restos do imperador. Hoje de manhã, falei por telefone com o pesquisador pernambucano, Roberto Benjamim, meu ex-professor na UNICAP, em Recife. Ele se recorda do protesto dos integrantes do Instituto, mas a iniciativa não passou disso.
O protesto tem raízes distantes na história. Pedro I foi um verdadeiro algoz dos pernambucanos, reconhecidos por suas lutas pelas liberdades no Brasil. Inclusive por lutas que se desenhavam separatistas, para fazer do Nordeste um país independente. Por essas e outras, o imperador que agora retornava em cinzas, mutilou por completo o território do hoje Estado de Pernambuco, diminuindo-lha a extensão territorial, como castigo.
A pressa do jornalista-historiador se verifica em alguns detalhes outros, como o nome do Instituto pernambucano, que é Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP) e não Instituto Histórico e Arqueológico.
Ao tratar aqui de imprecisões num texto produzido por um jornalista, posso ter cometido outras também. Quem as achar, mande um recado...
O referido livro é de 1999, publicado pela editora da Universidade Estadual Paulista. Parabéns!
Post scriptum 1): Um outro livro, cujo título é "As raízes do separatismo no Brasil", de um autor chamado Manuel Correia de Andrade, afirma, na página 72, que os líderes cabanos, no Pará, foram Malcher, Vinagre e Alecrim. Só esse autor sabe quem foi esse "Alecrim". Será que queria dizer Angelim, o nome correto?
Post scriptum 2) Não deixe passar os meus próprios erros neste artigo, no qual inseri trechos de textos de arquivo. Grato, Manuel Dutra
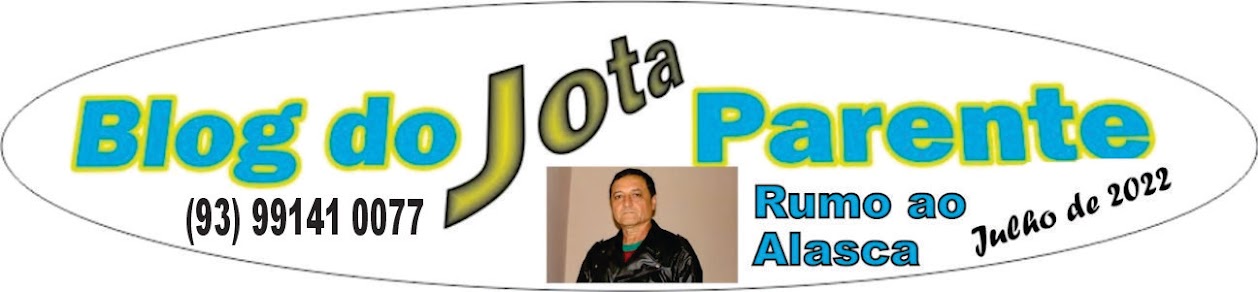

Nenhum comentário:
Postar um comentário